É impossível fazer história sem utilizar sequências infindáveis de conceitos ligados ao pensamento de Marx
por Ernani Chaves
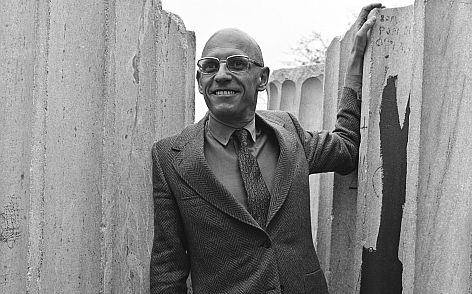
Há exatos quarenta e um anos, na Primeira Conferência de A verdade e as formas jurídicas proferidas, como sabemos, na PUC do Rio de Janeiro, pouco cauteloso, de certo modo, à peculiaridade da situação política brasileira e do papel desempenhado naqueles anos pelo marxismo como forma de resistência à ditadura, Foucault foi absolutamente implacável: ele critica com bastante virulência o “marxismo acadêmico”, “universitário”, que resolvia a questão das relações entre condições econômicas e práticas de subjetivação por meio dessa espécie de fórmula explicativa conhecida como “teoria do reflexo ou da expressão”. Mesmo que, precavido, ele tenha restringido sua declaração à França e à Europa, ela foi suficiente para suscitar não apenas um debate, mas também uma desconfiança de que nos encontrávamos diante de um anti-marxista resoluto. Na discussão que se seguiu à última conferência, dominada pelo debate com Hélio Pellegrino, respondendo a uma intervenção que associava suas análises a uma espécie de crítica da ideologia, Foucault volta a se posicionar enfaticamente contra essa ideia referindo-se, novamente, a uma “interpretação tradicional”, a “interpretação dos marxistas”. E assim, o próprio Foucault marcava, com certa clareza e precisão, sua distância e afastamento do marxismo. O que significava, tal como podemos hoje claramente perceber, um afastamento de algumas teses de Althusser, seu ex-professor e amigo pessoal, que ele abraçara na sua juventude e que estavam presentes na História da loucura. Mas também um posicionamento que refletia o debate tipicamente francês, ainda decorrente do maio de 1968, a propósito das posições políticas no campo da esquerda radical. Para dar um exemplo desta situação peculiar, basta, mais uma vez, lembrarmos da famosa cena de A chinesa, de Godard, na qual Les mots et les choses é alvo, “literalmente”, do dardo disparado pelo estudante maoísta.
Esse afastamento significava, por outro lado, uma aproximação com Nietzsche. Mas não mais o Nietzsche dos textos da década de 1960, enredado nas questões relativas à linguagem, a um modelo de interpretação, e a uma possível “experiência trágica da loucura”, mas ao “Nietzsche, filósofo do poder”, como ele dirá na entrevista “Sobre a prisão”, em 1975 e de quem emprestará não apenas o nome, mas também as diretrizes fundamentais do método “genealógico”. Assim, ao final da Primeira Conferência de A verdade e as formas jurídicas, Foucault parecia montar uma oposição entre o marxismo e Nietzsche. É importante ressaltar que Foucault não se refere, aqui neste texto, a Marx, mas sim ao “marxismo”, uma designação ao mesmo tempo muito geral e muito vaga, mas também muito específica, se pensarmos no contexto da época, que inclui tanto o althusserianismo, como as correntes de esquerda nascidas à sombra do Maio de 1968.
De todo modo, nossa tradução no Brasil foi simples e rápida: Foucault, nietzschiano, contra Marx!
A recepção do Vigiar e punir entre nós também não levou em consideração as referências ao Capital ali presentes. Poucas e esparsas, elas pareciam, de fato, não ter nenhuma importância, tão fascinados ficamos com a análise da constituição histórica do poder disciplinar. A questão do poder, sim, nos interessou exaustivamente, pois nos parecia uma chave interpretativa muito mais interessante, muito mais pertinente, para compreendermos o modo singular dos processos de dominação na sociedade capitalista. Raramente atentamos para a posição estratégica que a referência a Marx possuía no livro. Raramente percebemos que havia sempre uma diferença no discurso foucaultiano entre a menção a Marx e a menção ao marxismo.
A publicação da Microfísica do poder, em 1979, aprofundava nossa desconfiança que, aos poucos, transformou-se em certeza: Nietzsche contra Marx, eis a questão! De fato, em inúmeras entrevistas e passagens de aulas no Collège de France publicadas nesta coletânea, vemos Foucault voltar-se, com frequência, contra o marxismo e algumas vezes, contra o próprio Marx. Dessas inúmeras referências, gostaria de destacar duas, pois elas me parecem instrutivas da questão que estou colocando aqui.
A primeira se encontra ainda na mesma entrevista, a qual me referi a pouco, “Sobre a prisão”, de 1975 portanto. Após ter feito a afirmação, hoje bastante conhecida e famosa, de que citava Marx sem aspas e por isso Marx não era identificado em seus textos, justamente porque os que se intitulavam marxistas não liam Marx, escreve Foucault: “É impossível fazer história atualmente sem utilizar uma sequência infindável de conceitos ligados direta ou indiretamente ao pensamento de Marx e sem se colocar em um horizonte descrito e definido por Marx. Em última análise, poder-se-ia perguntar que diferença poderia haver entre ser historiador e ser marxista”. A discussão, diz Foucault mais adiante, não é com/contra Marx, mas com os que se dizem marxistas e cuja regra do jogo não é a obra, o pensamento de Marx, mas a “comunistologia”.
A segunda se encontra logo no texto de abertura da Microfísica do poder, a entrevista intitulada “Verdade e Poder”, realizada em 1977. No início da entrevista, Foucault procura explicar porque seus “objetos” de estudo eram desqualificados tanto do ponto de vista epistemológico (eram objetos “sem nobreza”), quanto político (eram “sem importância”). E ele aponta três razões: 1) a posição dos intelectuais marxistas, ligados ao Partido comunista francês (PCF), no interior das instituições universitárias; estes, diz Foucault, queriam legitimar o marxismo, adaptando-o às regras tradicionais do ensino e da pesquisa na universidade francesa; nesta perspectiva, “a medicina, a psiquiatria, não eram muito nobres nem muito sérias, não estavam à altura das grandes formas do racionalismo clássico”; 2) havia um estalinismo pós-estalinista, que excluía do discurso marxista a emergência do novo, a possibilidade de se colocar novas questões, de tal modo que os marxistas continuavam, no que diz respeito à discussão sobre a ciência, presos ao discurso positivista do século 19: “para certos médicos próximos do PCF, a política psiquiátrica, a psiquiatria como política, não eram coisas honrosas”; 3) haveria a possibilidade igualmente de que o PCF procurasse silenciar a discussão sobre as formas de disciplina da vida social, tendo em vista a realidade do Gulag, ou seja, sobre determinadas coisas é melhor não falar, é melhor ficar em silêncio.
Vemos o quanto essas duas referências constituem posições diferentes no discurso de Foucault: de um lado, Marx é incontornável (o que não quer dizer, evidentemente, que ele não pudesse ser “ultrapassado”, como o afirmava Sartre); mas, de outro, o marxismo é uma teoria e uma prática que se tornou incapaz de pensar. A radicalidade de Marx estaria assim perdida na sua posteridade.
Mas poderíamos dizer que esse diagnóstico de Foucault desemboca numa espécie de “niilismo passivo”, ou seja, de uma imobilidade resignada diante do nosso tempo? Evidentemente que não. E aqui então, eu gostaria de colocar uma hipótese, uma hipótese baseada, em especial, em textos, entrevistas e evidentemente nos cursos no Collège de France, publicados a partir de 1980. A hipótese é a seguinte: há, na posteridade do marxismo, um momento do qual Foucault se aproxima, um momento que lhe permite reatar com a função crítica do marxismo. Este momento é o da primeira Teoria Crítica, a da chamada Escola de Frankfurt. Sabemos o quanto essas designações gerais – Teoria Crítica, Escola de Frankfurt – podem nos enganar e nos iludir, como se tivéssemos diante de um pensamento único, comum, a reunir autores muito diferentes. Marcuse, por exemplo, defensor de uma espécie de freudo-marxismo, que insiste em reiterar a relação entre capitalismo e repressão da sexualidade, está fora da lista de Foucault. Novamente aqui, recorro a duas referências para sustentar minha posição.
A primeira, uma entrevista de 1983, na qual após lamentar a ausência da Escola de Frankfurt em sua formação, Foucault dirá que, se tivesse tido a oportunidade de conhecer a Escola de Frankfurt, teria seu trabalho poupado, não teria dito tantas tolices e teria evitado tantos outros desvios, uma vez que aquela Escola já teria aberto vias muito mais promissoras para os mesmos problemas dos quais ele tratava. A segunda referência é um pouco anterior, de 1978 e está na “Introdução” à edição inglesa de O normal e o patológico, de George Canguilhem. Para situar seu próprio trabalho e a inspiração de Canguilhem, Foucault irá associar dois modelos, o da Teoria Crítica alemã e o da História das Ciências tal como praticada na França no século 20, como as maneiras mais interessantes de dar continuidade à famosa questão acerca do significado da Aufklärung: “Na história das ciências na França, como na teoria crítica alemã, o que se trata, no fundo, de examinar, é bem uma razão, cuja autonomia das estruturas traz consigo a história dos dogmatismos e despotismos – uma razão, por consequência, que só tem efeito de livramento com a condição de que consiga se liberar de si mesma”.
Essa aproximação com os frankfurtianos não significa, entretanto, uma adesão completa, como se Foucault tivesse se transformado, pura e simplesmente, na versão francesa da Teoria Crítica. Ao contrário, em uma entrevista também concedida em 1978 ao italiano Duccio Trombadori, mas publicada apenas em 1980, ele explicitará suas diferenças em relação aos frankfurtianos. Foucault critica a presença de uma certa concepção de sujeito ainda tradicional nos frankfurtianos, concepção que ainda mantém laços muito estreitos com o humanismo marxista; critica a presença forte da psicanálise e a relação entre Marx e Freud e, finalmente, considera que os frankfurtianos têm uma relação decepcionante com a história, que de fato eles não fizeram pesquisa histórica, limitando-se a repetir o trabalho de alguns historiadores. Como vemos, podemos falar de relações de troca e simpatia entre Foucault e os frankfurtianos, mas também de relações tensas, que repetem, por sua vez, o próprio modo pelo qual Foucault estabeleceu suas relações com Marx e com o marxismo.
Entretanto, entre os frankfurtianos, apenas um mereceu de Foucault uma referência nos livros publicados: Walter Benjamin, em conhecida e famosa nota de pé de página em O uso dos prazeres, o segundo volume da História da sexualidade, na qual Foucault considera os estudos de Benjamin sobre Baudelaire como um exemplo de estudos a propósito de uma “estética da existência”. Gostaria, então, de finalizar minha exposição com uma terceira hipótese: de fato, dentre os frankfurtianos, Benjamin se aproxima do menos frankfurtiano de todos, daquele que só pode ser enquadrado nesta Escola com muitas ressalvas, justamente Walter Benjamin. Em meu recente livro, empreendi uma espécie de genealogia das relações possíveis entre Foucault e Benjamin, tomando como eixo norteador não a referência explícita a Benjamin em O uso dos prazeres, mas na ressonância implícita que podemos encontrar em A coragem da verdade, quando nos deparamos com o nome de Baudelaire listado dentre aqueles artistas que a partir do século 19, podem ser associados à insolência, à blasfêmia, à confrontação com o poder por meio de uma ética e uma pedagogia que reúnem corpo e natureza, tal como encontramos no cinismo antigo. Nesta genealogia, gostaria de destacar, mais uma vez, dois textos.
O primeiro é uma entrevista de Foucault, no final de 1977, em Berlim, dada em um contexto de muita efervescência política, logo depois do chamado Outono alemão, uma série de ações promovidas pelos integrantes da Rote Armee Fraktion (RFA) ou ainda do grupo Baader-Meinhof, para libertar Andreas Baader e outros líderes da prisão. Por outro lado, a luta de Foucault (ao lado de Deleuze, Guatari e Sartre, por exemplo) para impedir a extradição para a Alemanha, de Klaus Croissant, o advogado da RFA, que havia se refugiado na França. Desta entrevista destaco, de início, a pergunta, a primeira pergunta, que lhe foi feita: “Você escreveu a História da Loucura, da Clínica. Benjamin disse um dia, que nossa compreensão da história era a dos vencedores. Você escreve a história dos perdedores?”. A esta pergunta, Foucault responde: “Sim, eu gostaria muito de escrever a história dos vencidos (l’histoire des vaincus). É um belo sonho que muitos partilham: dar enfim a palavra àqueles que, até o momento, não puderam tomá-la, àqueles que foram constrangidos ao silêncio pela história, por todos os sistemas de dominação e exploração”.
Em 1977, para os estudantes alemães engajados e/ou simpatizantes das ações radicais dos grupos chamados “terroristas”, as histórias de Foucault eram imediatamente associadas à exortação de Walter Benjamin por uma escrita diferente da história e por uma posição ética, política e também epistemológica em relação ao papel e ao lugar da História. Estou inteiramente de acordo com a ideia de que Foucault apreciou o marxismo anti-dogmático de Benjamin e que ele poderia ter percebido, caso tivesse tido a possibilidade de aprofundar-se mais ainda no pensamento de Benjamin, a “afinidade eletiva” que havia entre eles.
Segunda referência: em uma entrevista de 1978, bem antes, portanto, do último curso de Foucault no Collège de France, em uma entrevista significativamente intitulada “Metodologia para o conhecimento do mundo: como se desembaraçar do marxismo”, Foucault afirma que “os partidos políticos tendem a ignorar estes movimentos sociais [os novos movimentos sociais, como os anti-psiquiatria, movimentos nas prisões, movimentos feministas, movimentos gays] e mesmo a enfraquecer sua força. Deste ponto de vista, sua importância é muito clara para mim. Todos eles se manifestam entre os intelectuais, os estudantes, os prisioneiros, no que se chama o lumpemproletariado”. Exaltação do “lupem”, a categoria criada por Marx e Engels para criticar essa parcela do proletariado incapaz de assumir seu papel histórico de classe, parcela impulsiva, romântica, em última palavra, “boêmia”.
Ora, “A boêmia” é justamente o título da primeira parte do estudo inacabado de Walter Benjamin intitulado Charles Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo. Aqui, Walter Benjamin afasta-se decididamente de Marx e Engels e faz o elogio da boêmia. Tomando como referência o famoso poema de As ores do mal de Baudelaire, intitulado “O vinho dos trapeiros”, ele vai se referir positivamente aos boêmios, encharcados de vinho e ópio nas tavernas, bradando contra a monarquia de Luis Felipe e organizando as barricadas nas ruas de Paris. Imbuídos do espírito da revolta, eles formam uma corja de malditos, nas quais se inclui o poeta, mesmo que ele seja, como Baudelaire, um burguês desiludido com sua própria classe.
O lumpemproletariado, que traz em seu próprio nome a marca de sua desqualificação, “proletariado em farrapos”, se transforma, tanto em Benjamin como em Foucault, no protagonista da história. Assim, podemos reescrevê-la não mais como a história dos vencedores, mas como o quis Foucault, uma “história dos homens infames”, dos infames sem glória, condenados à exclusão e ao silêncio.
Se, tanto para Benjamin como para Foucault, é impossível pensar, sem Marx, a tarefa do historiador, é preciso também para ambos que nos “desembaraçemos do marxismo” e de algumas teses de Marx, para renovar o marxismo e reencontrar a radicalidade do próprio Marx.
Ernani Chavesé professor da Faculdade de Filosofia da UFPA e autor de Michel Foucault e a verdade cínica(Phi, 2013)





Nenhum comentário:
Postar um comentário