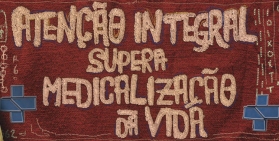Educar não é instruir, infundir bons modos, exigir austeridade, respeito pelos superiores ou propagar a conformidade. Educado não é aquele que desempenha papéis de acordo com as convenções. Este é um sujeito que representa o que dele se espera, educado para sujeitar e ser sujeitado.
No século XVI um jovem chamado Ettiènne de la Boétie, escreveu um opúsculo chamado “O discurso da servidão voluntária”, no qual defendia a liberdade como princípio da existência. Questionava o que chamou por servidão voluntária, ou seja, o ato de alguém sujeitar-se, deliberadamente, a uma autoridade superior. E perguntava: até quando perdurará a nossa covardia?
Desde crianças as pessoas são ensinadas a acreditar na autoridade superior como verdade inquestionável. Acreditam nos pais, governantes, padres e pastores, patrões, médicos, advogados e professores a partir de uma sociabilidade baseada no respeito à hierarquia ¾ o que antecede qualquer ato de contestação acerca da vida no planeta, ao mesmo tempo em que exige a reposição posterior da autoridade centralizada.
Estamos falando de uma educação que gira em torno do soberano centralizado, chame-se rei ou representante. E como sua existência parametra as relações entre pessoas, no limite, tolera-se o questionamento de sua autoridade e a legitimidade da substituição.
A convenção acerca da justiça pautada na racionalidade jurídico-política que gradativamente instituiu o acesso à igualdade política fez deslizar a autoridade do rei, dos aristocratas e do clero, para o que se convencionou chamar de povo, uma categoria que procurou agrupar todos os segmentos e classes sociais ao mesmo tempo em que dissolveu as diferenças na unidade. Formou-se o que la Boétie designou por UM, num outro tempo histórico. No lugar do rei, o povo; da tradição baseada na hereditariedade, a racionalidade individual; e afirmou-se o presente no lugar do passado.
Não tardou para que, no século XIX, em nome da restauração do passado (aristocracia), da afirmação do presente como eternidade (burguesia) e da solução das desigualdades sócio-econômicas no futuro (socialistas) explodissem as tensões fazendo aparecer a ditadura ¾ como forma exacerbada da autoridade como viemos a vivê-la no século XX ¾ e o discurso moderno sobre a justiça social, compartilhado por anarquistas e comunistas.
A ditadura apareceu sob a forma de nazismo e fascismo exigindo um Estado nacional capaz de colocar-se acima das pessoas e dos demais Estados. O resultado foi a guerra mundial. Da mesma maneira o socialismo proposto por Marx, levou primeiro os bolchevistas ao governo da Rússia e depois à sua expansão pela Europa com o final da II Guerra. Logo ele se propagou pela Ásia, depois da ascensão dos comunistas na China, e chegou à América Latina e África entre o final dos anos 50 e início dos 70. Se, por um lado, a vitória aliada na II Guerra extirpou os diversos regimes fascistas, por outro lado, ela opôs os vencedores socialistas e democratas, até que com a derrocada do socialismo pela introdução do neoliberalismo, desde os anos 70, restou a idéia de democracia como valor universal. Contudo a defesa de tal valor ocultou e camuflou as mais diversas formas de autoritarismo como foram as ditaduras militares na América Latina, dos anos 70 e 80, em nome da verdadeira representação democrática, da justiça social ou da liberdade de mercado. A história nos mostra que os soberanos se instituem com base numa autoridade centralizada e hierarquicamente organizada e que, em nome da justiça legal ou da justiça social, fizeram progredir as mais diversas formas de arbitrariedades sobre a liberdade das pessoas, muitas vezes em nome da própria democracia representativa.
A substituição de soberanos não nos leva, portanto, além da própria continuidade da autoridade centralizada para quem devemos prestar contas de nossa vida pagando impostos, declarando nossas intenções políticas através do voto (muitas vezes obrigatório) para que outras pessoas nos representem, nos reprimam, nos eduquem. David Thoreau em “Resistência ao governo civil”, escrito em 1849 ¾ após uma noite na prisão por recusar-se a pagar impostos desviados para interesses de guerra ¾, afirma que os legisladores, políticos, ministros e funcionários servem ao Estado com a cabeça, ou seja, servem tanto a Deus quanto ao Diabo. Servem a qualquer soberano. Resta saber se há um melhor soberano.
A história nos mostra que a democracia é sempre preferível à ditadura ¾ com isto também concordava o anarquista Pierre-Joseph Proudhon, em “O princípio federativo”, escrito em 1863, quando argumentava a respeito das diferenças entre os regimes de autoridade (comunismo e monarquia, baseados nas decisões centralizadas) e os regimes de liberdade (baseados na divisão de poderes e descentralização, no qual incluía a democracia e a anarquia), ressaltando que o Estado é sempre usurpação da liberdade. De acordo com esta constatação, qualquer soberano que se instale no governo vindo do exterior a nós mesmos (e não somente os que vêem do estrangeiro, como invasores) e pretenda colocar-se acima de nós, chame-se democrata, socialista, sacerdote ou cientista, será um tirano, como bem sublinhou Mikhail Bakunin, em “Deus e o Estado”, escrito em 1871, mas somente publicado pela primeira vez em 1882. Como afirmava Thoreau, “o Estado não confronta intencionalmente o senso de um homem moral ou intelectual, mas apenas seu corpo, seus sentidos. Não está armado com a superioridade intelectual ou moral, mas com a superioridade da força física”.
A maioria nunca sendo justa aos olhos da minoria, podendo desviar-se para a exigência da unanimidade, assim como o governo de minoria, mesmo em nome da maioria desliza para a ditadura, nos leva a postular a cidadania recusando-nos a condição de súditos!
Educar para a soberania centralizada é educar justificando o uso da força. Ela precisa ser contida num determinado lugar e seu uso nas várias relações de soberania e encontra no Estado a autoridade para dispor dela como monopólio e com legitimidade. De cima para baixo na hierarquia vão se definindo os poderes do monopólio da força: abaixo do Estado (regulamentado pela Constituição), os pais (regulados pelos Códigos Penal e Civil) e depois os diversos níveis em que o uso da força é intolerável e para os quais o Estado moderno, como mediada de proteção, utiliza os aparatos repressivos. De baixo para cima legitima-se um discurso que se fundamenta em saberes que caracterizam a natureza original violenta do homem. E, neste trânsito, a competitividade, liberta da arbitrariedade do uso da força monopolizada no Estado, emerge como potencializadora de talentos no interior que devem ser preservados do exterior. Para a segurança interna haverá a polícia, o hospício, o internato, e muitas vezes, a escola e os próprios pais e parentes; para a segurança externa, mas podendo ser utilizada a qualquer momento internamente, sempre haverá funções para o exército. A educação baseada no princípio da soberania centralizada exige obediência: é a educação para o medo!
1. O Estado, a língua, os costumes, os corpos saudáveis.
Diz-se modernamente que um território deve ser governado pelo Estado; que ele garante a segurança dos cidadãos que ali habitam, independentemente da procedência social; e que estes devem respeitar as leis e costumes nacionais falando uma língua comum a todos.
O Estado nacional homogeiniza a língua e os costumes, transformando-se em proprietário da gramática e celebrador de seus próprios feitos com espetáculos cívicas. Ele dilui as diferenças em nome de uma artificial nacionalidade e forma no seu interior, naturalizada, a idéia de superiores e inferiores. É um pacificador artificial da suposta violência original representando, por meio da espetacularização da política, uma cultura nacional. Contudo a cultura que predomina num Estado nada mais é do que a afirmação da superioridade de uma cultura oficial sobre as demais, tradicionais ou não, incluindo-se aí diferenças raciais, étnicas e religiosas; é a confirmação do princípio de maior adaptação de alguns à competitividade dividindo a sociedade em ricos e pobres; e é também a referência para o Estado pensar o controle sobre os corpos saudáveis.
Os homens livres no mundo moderno são disciplinados a partir da existência de múltiplos soberanos que se reconhecem na hierarquia capitaneada pelo governo central, com maior ou menor conivência com os preconceitos raciais e sociais. No século XIX, em especial, os alvos do investimento seguro sobre o corpo era formado por povos colonizados vindos do exterior e migrantes pobres nas cidades. No século seguinte serão os pobres, os imigrantes, os migrantes, as mulheres, as crianças, os homossexuais, os negros e não poucas vezes, seitas religiosas e etnias compartilhando, preferencialmente, os espaços urbanos. A intolerância com o diferente levou os sujeitados de ontem a sujeitar hoje em dia os seus antigos algozes, recolocando a guerra no centro das relações sociais, em nome da independência nacional ou da autonomia dos povos. Uma revanche colonizada que restituiu o princípio da centralidade moderna
O preconceito racial e o social sobre as classes pobres e etnias levou também, no último quartel do século XX, a uma política complementar, tolerante, que em nome do avesso, ou seja, da preservação da diferença, nada mais fez do que isolar gradativamente grupos sociais e etnias dentro do princípio de aceitabilidade circunstancial conhecido como relativismo cultural ou politicamente correto. Em nome da vida comum, passou a ser tolerável o que não prejudica e reafirme a autoridade central. E os que se sublevam continuam sendo vistos como subversivos, inimigos da nação e da paz entre os povos, fomentadores de guerras civis.
O Estado nacional gerou preconceitos e, ao mesmo tempo, de maneira conservadora, seu avesso: a política de tolerância e de preservação da diferença. Restaurou o princípio da competitividade como sendo o mais justo para fazer emergir o talento das pessoas e para que todos tivessem restituído o suposto direito à riqueza em dois movimentos: pelo alto, com políticas neoliberais, e por baixo pela revolta do mercado contra o intervencionismo estatal.
Mantendo-se a competitividade como fonte do merecimento, as pessoas continuaram acreditando na naturalidade dos talentos e no respeito àqueles que deram certo dentro do princípio disciplinar que valoriza o consumo das energias produtivas do corpo em detrimento das suas energias políticas. E, assim procedendo, as pessoas deixam de dar atenção à política acreditando que a democracia representativa é o melhor dos regimes por garantir-lhes igualdade política pela ilusão do merecimento. Frente a esta ambigüidade, Friedrich Nietzsche, entre 1881 e 1882, escreveu em “A vontade de potência”, que a democracia passaria a ser a religião do rebanho no século XX. Anteviu o povo transformar-se em massa e alinhar-se para um pastor, convencida que ele deveria ser seu educador, condutor, mestre, por ser mais inteligente e perspicaz na luta pela vida na competitividade; por ser capaz de mostrar o caminho da virtude e dos benefícios materiais e, em troca, eles se entregaram passivamente.
A competitividade é um procedimento de acúmulo de poder e riquezas. Realiza-se através da confluência de diversos fatores, dentre os quais, não resta dúvidas, se encontra o mérito. Mas seu reconhecimento se dá por meio de alianças, castrações e adesões implícitas colocadas pelas situações que vão se apresentando como exemplares para a afirmação do poder de cada um na rede de sujeições. A meritocracia e a competitividade escolhem talentos a partir de grupos de referências e pinçam entre os setores mais pobres, “genialidades” extemporâneas que legitimam a ilusão do recrutamento. A competitividade não suporta a ajuda mútua; ela afirma a seletividade pelos mais “aptos” e subalterniza os demais expondo-os aos ditames da filantropia privada de empresários e religiosos ou da filantropia pública que redimensiona a privada por meio de políticas sociais.
Neste sentido a instrução pública, ou o que o Estado chama por educação, desempenha papel preponderante na construção de corpos saudáveis na sociedade disciplinar. A “educação para todos” sempre foi meta dos liberais. John Locke, em “Escritos sobre a educação”, de 1693, defendia escola para todos desde que estivessem estratificadas em escolas para os governantes e escolas para os que devem obedecer, pois a criança é vista como um receptáculo a ser moldado pelo adulto.
No mundo moderno, obedecer sempre foi a atitude esperada por todos os soberanos envolvidos nas redes de poderes. O pátrio poder, portanto, nada mais é do que a expressão da tolerância com o uso da força física pelos pais para obter a obediência dos filhos. Faz parte do duplo efeito da obediência: servir como súdito ao governante e fazer do outro seu súdito. É a exigência da transformação do outro no UM, no supostamente igual, e daí decorre que só é verdadeiro quem se parecer com o UM. É o tempo do narcisismo individualista, do solitário, dos que carecem de amigos, pois na massa todos se igualam; qualquer um pode ser “amigo”, mas como o sujeito se dilui no UM, o amigo de verdade tende a desaparecer e o individualismo que funciona como defesa pode transforma-se, simultaneamente, em arma.
A instrução pública, neste circuito, deve cuidar da educação para a obediência: o educando disciplinado deve ser ao, mesmo tempo, o bom educando e espelho do melhor educador. O pai austero, o melhor exemplo de respeito a ser seguido pelo filho subserviente, ou a beira de um extravasamento de ódios que o leva a inusitadas formas para impingir a dor no outro. Crianças e mulheres sabem bem o que significa o circuito de repressão no qual estão inseridos como parte frágil, como desejo substituto de pais, maridos, companheiros, patrões, amantes, professores... São também, paradoxalmente, parte deste mesmo circuito quando adultos ou mães em relação a filhos, enfim, não há um lugar para ser visto como vitimizado ou vitimizador a não ser perante o direito penal que se impõe como universal e que pretende fazer crer na ameaça e na punição propriamente ditas como meios para endireitar o mundo.
Não existe mundo disciplinar sem competitividade, punição, hierarquia, obediências cegas, soberanos mais ou menos autoritários, escolas para pobres, postos de saúde e hospitais precários, cestas básicas, internatos, hospícios, prisões.
As exigências da sociedade disciplinar, baseadas na soberania, disciplina e segurança, têm como corolário os corpos saudáveis. Eles devem ser repostos diariamente para que a produtividade não caia. Devem ser corpos educados para responder ao que se espera deles numa fusão mecânica. Suas energias políticas devem ser absorvidas e quando isto não ocorrer, seguramente, antes de transferir-se para a revolta, elas devem ser recicladas na violência doméstica. As exigências disciplinares para o corpo saudável deixou as mentes na miséria e francamente disponíveis para seguir os pastores.
O tempo da sociedade disciplinar, dos séculos XIX e XX, foi o tempo dos pastores da massa, de um povo que se transformou em massa, que abriu mão da frágil igualdade política em nome de benefícios sociais e que pretendem a justiça social. Foi a mais perfeita tradução para o fracasso da idéia de progresso dos positivistas, de aumento de produtividade dos socialistas e de bem-estar-social dos capitalistas.
2. Educação e sociedade de controle.
A sociedade disciplinar foi cedendo a vez a uma sociedade de controle, baseada na produtividade do corpo, não mais ancorada na mecânica e numa disciplina em espaços, mas fazendo conhecer uma nova saúde do corpo. Agora, o que interessa é a mente e esta deve ser tratada de maneiras diferenciadas. Ela deve ser ocupada com múltiplas atividades que possam vir a ser potencializadas, num tempo de produtividade virtual individualmente, na qual o corpo como um todo deixa de ter importância. Agora as partes devem desempenhar, com habilidade, o que antes se exigia do todo.
Não é mais o tempo de “mente sã em corpo são”. A mente deve ser saudável para o trabalho e o corpo, enquanto partes para ser apreciadas, incluindo-se a fragmentação da sexualidade e a diversificação das formas de reprodução de espécies. Em tudo deve haver mais trabalho e a mente deve estar ocupada. Neste circuito, se despreza a política abandonando-a aos representantes corporativos que, por sua vez, midiatizados pelas imagens eletrônicas, tornam-se cada vez mais efêmeros.
O tema do panóptico, tão relevante para as sociedades disciplinares, como mostrou Michel Foucault em “Vigiar e punir”, de 1975, se transforma em seu reverso, uma profusão de telerrealidades para a qual acorrem os súditos, esperando pelas explicações, pelo sentido da vida. Não é mais o olhar que espia forçando a disciplina que gera medo e produtividade; na sociedade de controle ele está invertido, sob a forma de televisão e monitoramento eletrônico em prisões, escolas, hospitais, edifícios privados, públicos e comerciais, galerias de arte e museus. As pessoas a ela recorrem para saber o que é realidade, verdade, divertimento e participar do mundo. Ela distrai, relaxa e educa para a mente ocupar-se com a produtividade virtual. Se com o panóptico procurava-se minimizar as forças políticas do corpo, com sua inversão procura-se distraí-lo da política. O súdito constrói a imagem de si como cidadão midiático, participante de quaisquer decisões, sentido-se livre para responder ao que lhe é solicitado inserindo-se numa discursividade que sublinha as sensações de liberdade.
Na sociedade disciplinar a obediência era o sinal para o acesso à vida, rejuvenescendo o soberano. Agora é a tolerância que dá acesso à vida como respeito ao diferente. A população deixa de ser o alvo principal dos governo para ceder lugar ao planeta: passamos de uma biopolítica da população, ¾ meticulosamente esquadrinhada por saberes que visavam fragmentar para totalizar e que nos dispunham para as especializações planejadas ¾, para uma ecopolítica planetária para a qual a multiplicidade de funções a ser desempenhadas pelas pessoas produtivas redimensionam a mesma totalidade a partir da relevância dada às partes.
A passagem da sociedade disciplinar para a sociedade de controle instaura outra reforma geral, primeiro com o nome de neoliberalismo e depois como liberalismo social que vivemos, no final do século XX, substituindo a fase de maior governamentalização, com Welfare-State e socialismo, quando ambos quase se tocaram. Nesta “transmutação” planetária, para muitos chamada de globalização, o líder e a massa são substituídos no espetáculo público pela democracia midiática. Governa-se ancorado na mídia, nas sondagens, nas pesquisas eletrônicas e recomenda-se não só em quem votar mas com quem governar: a publicização cede lugar à publicidade e os partidos políticos, assim como o sufrágio universal, ficam reduzidos a elementos do ritual democrático-representativo.
Neste holograma, os Estados nacionais tendem a se dissolver em grandes comunidades políticas comandadas a partir das unificações de mercado. Midiatiza-se o planeta num novo princípio que se pauta na desterritorialização do Estado-nação, e com isso, novos campos de miséria, riquezas, e espetacularizações se conformam dando visibilidades aos entretenimentos.
A saúde do corpo toma o centro das atenções para ser apreciado assepticamente. Importa saber como vesti-lo adequadamente para aqueles que fazem parte do grupo de referência o que, não necessariamente, significa participação ativa ou compromissos grupais. Esta tendência faz prevalecer a amizade por interesses sobre a amizade virtuosa, como expressou-se Aristóteles, em “Ética Nicômaco”. Se na sociedade disciplinar a amizade virtuosa ganhou amplitude com a crítica ilusão da igualdade política pela tese da desigualdade social agora, em nome da amizade por interesses preponderam as pequenas traições como expressões do insuportável no mundo das artificiais tolerâncias.
Recomenda-se que o socialismo seja abandonado ao mundo “jurássico”, como pretendem liberais e conservadores, ou ajustado aos tempos atuais, falando-se de socialismo democrático? Anthony Giddens, em 1994, com “Para além da direita e da esquerda”, apresenta-se como um dos mentores dessa idéia aproximando-se dos conservadores com o tema da democracia. Esquece-se, propositalmente que, entre os socialistas marxistas, a democracia foi tema defendido pelos reformistas ¾ e mote da crítica, no calor dos acontecimentos, elaborada por Rosa Luxemburg a Lenin e aos bolchevistas assinalando a iminência da ditadura na Rússia ¾, e que no limite também se aproximaram do welfare-state. Mas aceitar esta tese seria reconhecer que a vertente revolucionária, a mais perfeita seguidora de Marx, que sempre pretendeu desqualificar os social-democratas reformistas, estava redondamente equivocada. Experimentados nos governos como conservadores e liberais, os marxistas querem parecer democráticos e parlamentaristas num mundo de democracia midiática. Provavelmente devem estar tropeçando, pelos cantos, falando em manipulação dos meios de comunicação de massa, ou na relação emissor-receptor, uma das mais aceitas teses críticas no final da era da sociedade disciplinar, em que o socialismo de orientação marxista, de utopia igualitária se fez realidade ditatorial.
Na sociedade de controle a televisão também educa. Ela é a parte mais presente da mídia, a de contato instantâneo com o espectador, a criadora de telerrealidades conformistas. Da mesma maneira a televisão entra na escola com vídeos, internet, filmes telecinados, ensino a distância, enfim, aproximando e informando sobre as exigências de uma sociedade de controle que investe em potencialidades, em produtividade virtual.
Os educadores não são apenas os pais, os parentes, os vizinhos, os professores, a polícia, mas também a televisão, para a grande maioria que ainda não tem acesso aos computadores. E é neste jogo entre televisões e computadores no qual a internet atravessa todas as mídias (rádio, jornal, revistas e televisão) que a educação para resistências também emerge e que o cidadão-midiático abandona a sua faceta de súdito para exigir liberdade e expor a nudez das midiatizações.
Para além da obediência e da tolerância emerge o sentido do devir revolucionário individual sob a forma depiratarias e disseminação de virus que, rapidamente, em muitos casos leva à absorção e transformação dos resistentes em agentes de controle. Ser resistente passa a ser um meio para se obter um bom emprego e a resistência se desdobra fazendo aparecer uma terceira face do cidadão midiático.
A competitividade redimensionada para o campo eletrônico dissolve laços amistosos que inclusive levaram, no passado, à oposição entre amizade por interesse e amizade virtuosa. Aparecem sinais do fim das dicotomias, do esgotamento das teorias que operam por oposições entre protagonistas e antagonistas, de uma polivalência do exercício da soberania que exige intelectuais polivalentes se revezando nas confirmações e resistências.
Na sociedade disciplinar, o sindicato fez parte da reserva de empregos institucionalizada para os sindicalizados numa vida produtiva marcada pelo desemprego crescente. Por isso, rapidamente ele foi catapultado para o governo organizando-se dentro da aliança com empresários e burocracia estatal. Na sociedade de controle, o acesso à produção da senha e não só à senha gera um novo mercado assegurado pela vigilância eletrônica ¾ dentro e fora dos espaços produtivos ou de confinamentos ¾, exercida por satélites que mapeam, rotineiramente, as diversas camadas da Terra em nome da melhor continuidade para cada um e para as espécies.
A Terra continua azul. Ela sempre foi azul. Nós fomos informados pela voz de Yuri Gagarin e depois pelas imagens, via satélite, publicadas nas revistas coloridas. Em breve tempo assistimos pela televisão, ao vivo, a chegada na lua. Navegamos pelo espaço, construímos estações orbitais, instalamos satélites e sentamo-nos em frente a TV ou ao monitor do computador para orarmos pelos deuses midiáticos. A sociedade de controle que prepondera desde a segunda metade do século XX, ainda é uma sociedade com base numa sociabilidade autoritária, que educa para guerras, medos e supostos direitos. A sua base é a educação que acredita na punição e em supostos direitos universais de igualdade. Precisamos abolir a punição. A Terra é azul.